
Fonte: Freepik.com
Por que foi criada a Lei Maria da Penha?
A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada para enfrentar a epidemia de violência doméstica contra a mulher no Brasil e cumprir compromissos internacionais de direitos humanos.
Seu nome homenageia Maria da Penha Maia, uma farmacêutica que, em 1983, sobreviveu a duas tentativas de feminicídio pelo marido – na segunda, um tiro a deixou paraplégica. Após décadas de impunidade no caso, organismos internacionais como a OEA condenaram o Brasil por negligência e recomendaram a criação de mecanismos eficazes de proteção.
Assim, em 7 de agosto de 2006, surgiu a Lei Maria da Penha, com o objetivo de prevenir e coibir a violência doméstica e familiar, punir agressores com mais rigor e amparar as vítimas. A nova lei atendeu ao artigo 226 §8º da Constituição Federal (que determinava a repressão à violência no âmbito familiar) e incorporou definições da Convenção de Belém do Pará de 1994, voltada a erradicar a violência contra a mulher.
O que diz a Lei Maria da Penha?
A Lei Maria da Penha estabeleceu uma série de mecanismos inovadores de proteção para combater a violência de gênero no âmbito doméstico. Ela ampliou o conceito de violência doméstica, reconhecendo não apenas a agressão física, mas também a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral como formas puníveis de abuso contra a mulher.
A lei criou medidas protetivas de urgência que podem ser aplicadas rapidamente pelo Judiciário: por exemplo, o afastamento imediato do agressor do lar, proibição de contato com a vítima e seus familiares, manutenção do vínculo trabalhista da vítima, entre outras ações de proteção. Para garantir maior rigor, a Lei Maria da Penha aumentou penas: lesões corporais leves, antes punidas com até 1 ano de detenção, passaram a ter pena de até 3 anos quando ocorridas em contexto doméstico.
Além disso, vedou a aplicação da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) nesses casos, o que impede a substituição da pena por cestas básicas ou acordos de transação penal que antes trivializavam a violência doméstica. Em outras palavras, delitos abarcados pela Lei Maria da Penha não podem mais ser considerados de “menor potencial ofensivo” com penas brandas.
A lei também criou Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, estabelecendo uma estrutura judicial especializada. Ela prevê atendimento policial e jurídico especializado e humanizado para as vítimas, além de políticas integradas de assistência social, saúde e educação para prevenir a violência.
Importante destacar que a lei não cria um novo tipo penal específico, mas sim um microssistema jurídico: os crimes continuam tipificados no Código Penal (lesão corporal, ameaça, estupro, etc.), porém com procedimentos e consequências mais gravosas quando ocorrem em contexto de violência de gênero.
Por exemplo, a ação penal para crime de lesão corporal contra mulher em situação doméstica é pública incondicionada, ou seja, independe de representação da vítima – cabe ao Ministério Público denunciar mesmo que a mulher não formalize queixa.
Em suma, a Lei Maria da Penha assegura proteção integral às mulheres vítimas de violência doméstica, combinando medidas de urgência, punição mais severa dos agressores e serviços de apoio multidisciplinar.
Rede de proteção à mulher
Um dos pilares da Lei Maria da Penha é o fortalecimento de uma rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher. Isso significa que a aplicação da lei não se limita ao processo judicial, mas envolve uma atuação coordenada de diversos órgãos e serviços.
Hoje existe uma articulação interinstitucional entre o Poder Judiciário (juizados especializados), Ministério Público, Defensoria Pública, polícias, e os sistemas de saúde, assistência social e abrigos de proteção. Por exemplo, foram criadas as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) – a primeira surgiu em 1985 – para registro de ocorrências com equipes treinadas.
Em algumas localidades há centrais de atendimento 24 horas dedicadas a esses casos, e, em 2023, uma lei federal determinou que as DEAMs funcionem ininterruptamente, 24h por dia, para melhor atender as vítimas.
Outro componente essencial da rede são os serviços de acolhimento: existem Casas Abrigo para proteger mulheres em risco iminente de morte (com localização sigilosa) e os Centros de Referência que oferecem apoio psicológico, jurídico e social. Em nível federal, a Central Ligue 180 (criada em 2005) funciona gratuitamente 24h para orientações e denúncias, tendo registrado centenas de milhares de atendimentos anuais.
Desde 2015, foram inaugurados complexos integrados chamados Casa da Mulher Brasileira, que concentram em um só local delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria, apoio psicossocial e outros serviços de atendimento especializado à mulher em situação de violência. Essa integração facilita que a vítima obtenha proteção sem burocracia e com amparo completo.
Em âmbito comunitário, destacam-se iniciativas como as Patrulhas Maria da Penha (patrulhamento policial periódico na residência de vítimas com medidas protetivas) e aplicativos de emergência (como o Botão do Pânico e o app SOS Mulher em alguns estados) que agilizam o pedido de socorro.
A colaboração entre União, estados e municípios é prevista na lei para consolidar essa rede: o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por exemplo, atua em parceria com tribunais e secretarias estaduais para implementar projetos de prevenção e capacitação de profissionais.
Em resumo, a Lei Maria da Penha impulsionou a construção de um verdadeiro sistema de proteção, envolvendo polícia, justiça e assistência, para amparar a mulher desde a denúncia até sua recuperação e autonomia.
Leis e serviços de proteção às mulheres vítimas de violência

Além da Lei Maria da Penha, o ordenamento jurídico brasileiro conta com outras leis importantes que protegem as mulheres contra a violência de gênero, bem como diversos serviços públicos de apoio. Dentre as legislações destacam-se:
- Lei do Feminicídio (Lei 13.104/2015): alterou o Código Penal para incluir o feminicídio – assassinato de mulher por razões da condição de sexo feminino – como circunstância qualificadora do homicídio e crime hediondo. Isso aumentou penas e deu visibilidade à gravidade dos assassinatos motivados por ódio de gênero.
- Lei de Importunação Sexual (Lei 13.718/2018): criminalizou atos de assédio sexual contra mulheres em espaços públicos ou privados, como toques não consentidos e condutas libidinosas sem violência grave. Essa lei fechou uma lacuna antes existente entre a contravenção de importunação ofensiva e crimes como o estupro.
- Lei 13.772/2018: alterou a própria Lei Maria da Penha para reconhecer a violação da intimidade da mulher (ex.: divulgação não autorizada de imagens íntimas) como uma forma de violência doméstica e assegurar medidas protetivas nesses casos.
- Leis nº 13.827, 13.836, 13.871 (2019): uma série de melhorias pontuais na Lei Maria da Penha. A Lei 13.827/19 autorizou que, em municípios sem juiz, a autoridade policial (delegado ou até policial) possa conceder imediatamente a medida protetiva de afastamento do agressor, em casos de risco atual ou iminente à vida da mulher. A Lei 13.836/19 passou a exigir que os registros de violência doméstica indiquem se a vítima possui alguma deficiência, para atenção adequada. Já a Lei 13.871/19 determinou que o agressor ressarça ao SUS os custos dos tratamentos de saúde prestados à vítima, além de custear dispositivos de segurança usados por ela – colocando a responsabilidade financeira sobre quem causa a violência.
- Leis nº 13.880, 13.882 (2019): também alteraram a LMP. A Lei 13.880/19 prevê a apreensão da arma de fogo do agressor como medida cautelar obrigatória, quando houver registro ou risco de violência doméstica. A Lei 13.882/19 garantiu à mulher em situação de violência doméstica o direito de transferir os filhos para outra escola de educação básica mais próxima de seu novo domicílio, sem burocracia – importante para quando a vítima precisa mudar de endereço para fugir do agressor.
- Lei nº 13.894/2019: ampliou a competência dos Juizados de Violência Doméstica, permitindo que neles sejam processadas ações de divórcio, separação ou dissolução de união estável nos casos em que a mulher é vítima. Assim, a vítima não precisa enfrentar outro processo em vara de família para se desvincular do agressor, agilizando sua proteção. Essa lei também priorizou a tramitação de todos os processos judiciais que tenham mulher vítima de violência doméstica como parte.
- Lei nº 13.984/2020: acrescentou duas novas medidas protetivas de urgência na LMP: a obrigatoriedade de o agressor frequentar centros de educação e reabilitação e de realizar acompanhamento psicossocial, visando sua reeducação. São medidas de longo prazo para tentar romper o ciclo de violência.
- Lei nº 14.188/2021: criou no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B), com pena de 6 meses a 2 anos, e estabeleceu a campanha do Sinal Vermelho (um programa de ajuda em que a vítima faz um “X” na palma da mão para sinalizar pedido de socorro). Além disso, essa lei passou a explicitar na Maria da Penha que a violência psicológica também é motivo suficiente para o juiz determinar o afastamento do agressor do lar.
- Lei nº 14.132/2021 (Lei do Stalking): tipificou o crime de perseguição persistente (stalking), muito relacionado à violência doméstica e digital, preenchendo uma lacuna legal. Agora, perseguir alguém insistentemente, inclusive por meios eletrônicos, passou a ser crime no Brasil.
- Lei nº 14.149/2021: instituiu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (conhecido como Formulário Frida), para que policiais e autoridades possam avaliar o nível de perigo da mulher vítima e prevenir casos de feminicídio. Esse formulário padroniza perguntas sobre histórico de violência, ameaças, ciúmes, etc., e atribui uma pontuação de risco, auxiliando na decisão sobre medidas protetivas.
- Lei nº 14.164/2021: alterou a Lei de Diretrizes e Bases da educação para incluir conteúdo de prevenção à violência contra a mulher nos currículos escolares, além de criar a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher todo mês de março. É uma medida preventiva, educando as próximas gerações sobre respeito e equidade de gênero.
- Lei nº 14.310/2022: determinou que todas as medidas protetivas concedidas sejam cadastradas imediatamente em um sistema integrado pelo Judiciário, garantindo comunicação ágil às polícias para fiscalização (por exemplo, registro no BNMP/CNJ). Isso evita demora entre a ordem do juiz e seu cumprimento efetivo.
- Lei nº 14.541/2023: assegurou o funcionamento 24 horas das Delegacias da Mulher (DEAMs), inclusive fins de semana e feriados. Visa evitar que vítimas fiquem desprotegidas fora do horário comercial.
- Lei nº 14.550/2023: promoveu importantes ajustes na Maria da Penha para fortalecer as medidas protetivas de urgência. Esclareceu, por exemplo, que as medidas protetivas têm natureza autônoma, não dependendo da existência de inquérito ou processo criminal para serem concedidas. Também deixou expresso que basta o depoimento da vítima para embasar a concessão de proteção, não sendo exigidas provas técnicas ou testemunhas nessa fase inicial. Isso veio em resposta a decisões judiciais que negavam proteção por falta de provas “concretas”, ignorando que muitas vezes apenas a palavra da vítima está disponível – agora a lei reforça que esse testemunho é suficiente, dada a urgência e a natureza sigilosa dessas violências. A Lei 14.550/23 ainda deixou claro que qualquer forma de violência de gênero no âmbito doméstico ou íntimo, ainda que o fato em si não configure crime (por exemplo, ofensas verbais graves sem lesão física), pode justificar medidas protetivas. Ou seja, nenhuma situação de abuso deve ficar fora do amparo da lei sob alegações de “atipicidade” ou argumentos estereotipados contra a vítima.
- Lei nº 14.674/2023: incluiu no rol de medidas assistenciais a possibilidade de a vítima de violência doméstica receber auxílio-aluguel para mudar de residência, conforme critérios estabelecidos, reforçando a proteção econômica para que ela se afaste do agressor.
- Lei nº 14.994/2024: marco legislativo mais recente, transformou o feminicídio em um tipo penal autônomo no Código Penal (antes era uma qualificadora do homicídio) e elevou a pena do feminicídio para 20 a 40 anos de reclusão (antes era 12 a 30 anos). Essa lei também aumentou a punição para o descumprimento de medidas protetivas: violar ordem judicial de proteção que esteja em vigor, quando o indivíduo já foi condenado, passa a ser punido com 2 a 5 anos de reclusão (era de 3 meses a 2 anos). Ademais, endureceu regras de progressão de pena e estabeleceu uso obrigatório de monitoração eletrônica para agressores que obtenham saídas da prisão.
Como se nota, nos últimos anos houve um aperfeiçoamento constante da legislação relacionada à proteção da mulher. Essas diversas normas complementam a Lei Maria da Penha e buscam torná-la mais eficaz e abrangente, cobrindo desde a prevenção, educação e mudança cultural, até o aperto nas punições e medidas de proteção imediata.
Todos esses avanços legislativos representam conquistas importantes, embora a efetividade da aplicação prática ainda enfrente obstáculos significativos, conforme veremos adiante.
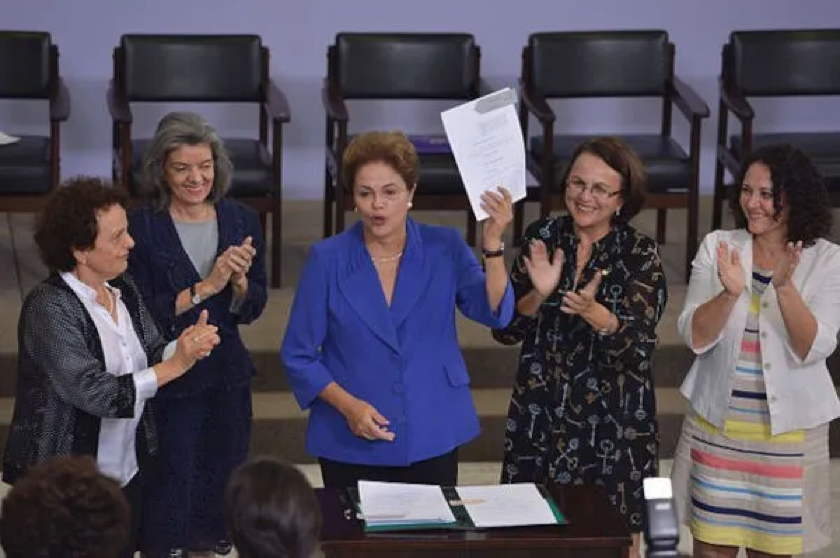
Cronologia das conquistas dos direitos das mulheres
Os direitos das mulheres no Brasil foram sendo conquistados ao longo de mais de um século de lutas e reformas legais. Alguns marcos históricos importantes nessa cronologia incluem:
- 1932: o Brasil reconheceu o direito de voto das mulheres, por meio do Código Eleitoral promulgado naquele ano. Até então, mulheres não podiam votar ou ser eleitas. Em 1934, o voto feminino foi inserido na Constituição e, em 1965, tornou-se obrigatório em igualdade de condições com os homens.
- 1962: foi aprovado o chamado Estatuto da Mulher Casada (Lei 4.121/62), que finalmente deu plena capacidade civil às mulheres casadas. Até então, pelo Código Civil de 1916, a mulher casada era considerada relativamente incapaz, precisando da autorização do marido para trabalhar, administrar bens, viajar ou mesmo para aceitar heranças. Com a lei de 1962, a mulher passou a poder exercer direitos civis independentemente do marido, deixando de ser tutelada legalmente por ele.
- 1977: sancionada a Lei do Divórcio (Emenda Constitucional nº 9/1977), permitindo pela primeira vez no Brasil a dissolução legal do casamento civil, o que representou uma conquista para a autonomia feminina (já que muitas mulheres presas a casamentos abusivos puderam se libertar formalmente).
- 1985: foi criada em São Paulo a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, iniciativa pioneira no mundo, especializada em atendimento de mulheres vítimas de violência. Esse modelo se espalhou pelo país nos anos seguintes.
- 1988: a Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, consolidou a igualdade de direitos entre homens e mulheres em seu texto. Proibiu expressamente qualquer discriminação em razão de gênero e assegurou direitos básicos femininos, como proteção contra a violência doméstica (art. 226, §8º) e licença-maternidade remunerada (art. 7º, XVIII). A CF/88 também consagrou a igualdade de condições no trabalho e na sociedade, servindo de base para inúmeras leis pró-mulher nas décadas seguintes.
- 1994: o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), assumindo compromisso internacional de adotar políticas para eliminar a violência de gênero.
- 2006: promulgação da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos legais específicos de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Esse é um divisor de águas no combate à violência de gênero no país, conforme detalhado anteriormente.
- 2013: entrada em vigor da Lei 12.845/2013 (conhecida como Lei do Minuto Seguinte), garantindo atendimento imediato, humanizado e integral a vítimas de estupro nos hospitais do SUS – incluindo profilaxia de DSTs, apoio psicológico e direito ao aborto legal nos casos previstos em lei, sem exigência de registro policial prévio.
- 2015: inclusão do feminicídio no Código Penal como qualificadora do homicídio (Lei 13.104/15), tornando-o crime hediondo e reconhecendo o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres como uma violência específica e estrutural.
- 2018: aprovação da Lei de Importunação Sexual (Lei 13.718/18), tipificando penalmente o assédio sexual em locais públicos (como “encoxar” em transporte coletivo, por exemplo). No mesmo ano, a Lei 13.772/18 passou a prever que “revenge porn” (registro ou divulgação não autorizada de conteúdo íntimo) é uma forma de violência doméstica e pode ensejar medidas protetivas.
- 2021: sanção da Lei 14.192/2021, que estabeleceu normas para prevenir a violência política de gênero, coibindo assédio e constrangimento contra mulheres durante o processo eleitoral. Também em 2021 foi editada a Lei 14.132 (crime de perseguição) e a Lei 14.188 (violência psicológica como crime), ampliando a proteção legal às mulheres.
- 2022: decisão histórica do STF (ADI 6138) confirmou a constitucionalidade da medida que permite a autoridades policiais (delegados e policiais) determinarem, em caráter emergencial, o afastamento do agressor do lar sem autorização judicial prévia, quando a vida da mulher ou de seus dependentes estiver em risco imediato. No mesmo ano, a Lei 14.314/2022 criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, garantindo distribuição gratuita de absorventes higiênicos – medida importante de dignidade para mulheres em situação de vulnerabilidade.
- 2023: uma série de novos avanços legais, como a já mencionada Lei 14.550/23 (fortalecimento das medidas protetivas) e a Lei 14.541/23 (DEAMs 24h). Em 2023 também foi sancionada a Lei 14.611/2023, que atualizou a CLT para assegurar a igualdade salarial entre mulheres e homens que exerçam a mesma função, visando eliminar a disparidade de remuneração por gênero – respondendo a uma antiga pauta feminista. Outra inovação de 2023 foi a Lei 14.492/23, que instituiu o Programa Mãe Trabalhadora para apoio à parentalidade, beneficiando especialmente as mães no retorno ao trabalho.
Essa cronologia ilustra que os direitos das mulheres no Brasil evoluíram gradualmente, desde direitos políticos fundamentais (como o voto) até direitos específicos de proteção contra violências.
Cada conquista legal foi resultado de mobilização social e mudança de valores, compondo hoje um arcabouço relativamente robusto. No entanto, como veremos, garantir na prática esses direitos é um desafio contínuo que exige vigilância e esforço permanente.
Principais direitos das mulheres no Brasil
Os principais direitos das mulheres, assegurados em leis nacionais e internacionais, podem ser resumidos em alguns eixos fundamentais:
- Direito à igualdade e não discriminação: A Constituição de 1988 garante igualdade de gênero perante a lei e proíbe diferenças de direitos ou salários por motivo de sexo. Isso abrange igualdade de oportunidades no trabalho, na educação, na política e na vida civil. Leis recentes reforçam esse princípio, como a Lei da Igualdade Salarial de 2023, que busca eliminar a diferença remuneratória entre homens e mulheres em funções equivalentes. Em resumo, mulheres têm direito a tratamento isonômico em todas as áreas – do acesso a cargos públicos até a divisão de bens no casamento ou união estável, por exemplo.
- Direito à vida, segurança e integridade (livre de violências): Toda mulher tem direito a não sofrer violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, seja na esfera pública ou privada. O Estado deve garantir proteção contra a violência de gênero, conforme previsto na Constituição e concretizado pela Lei Maria da Penha. Isso inclui o direito de acesso a medidas protetivas, a ter sua denúncia acolhida com seriedade e a ver o agressor responsabilizado. Internacionalmente, esse direito é reforçado pela Convenção CEDAW da ONU (1979) e por tratados regionais, que impõem aos países o dever de diligência na proteção das mulheres contra violência. Em sentido amplo, o direito à segurança abrange também políticas públicas como delegacias especializadas, abrigos e linhas diretas de denúncia (disque 180), para assegurar que mulheres vivam sem medo em casa, no trabalho ou nas ruas.
- Direitos sexuais e reprodutivos e saúde: Mulheres têm direito à autonomia sobre seu corpo e reprodução, o que envolve acesso a métodos contraceptivos, planejamento familiar e informação sobre saúde sexual. Desde os anos 1960 (com a difusão da pílula anticoncepcional) até hoje, a liberdade reprodutiva vem sendo reconhecida como fundamental para a igualdade – garantindo, por exemplo, que a mulher possa decidir sobre ter filhos e quando. No Brasil, a lei assegura atendimento pré-natal gratuito pelo SUS, direito ao parto humanizado, à licença-maternidade remunerada de no mínimo 120 dias (podendo chegar a 180 dias em certos casos), além de estabilidade no emprego desde a gravidez até cinco meses após o parto. Procedimentos como laqueadura e acesso a DIU devem ser oferecidos pelo sistema de saúde dentro dos critérios legais. Também existe o direito ao aborto legal nos casos permitidos (estupro, risco de vida da mãe ou anencefalia do feto, conforme interpretação do STF), com atendimento imediato garantido por lei (Lei 12.845/2013). Em suma, as mulheres têm direito a cuidados especiais de saúde (inclusive saúde menstrual) e a decidir sobre sua vida reprodutiva sem coerção.
- Direito à educação e ao trabalho em condições de equidade: As mulheres têm direito de acessar todos os níveis de educação e se qualificar profissionalmente sem barreiras de gênero. No Brasil, as mulheres já são maioria no ensino superior, porém persistem desafios em certas áreas (ex.: baixa presença feminina em STEM). No campo laboral, a legislação trabalhista (CLT) proíbe explicitamente a discriminação por sexo na contratação e na remuneração. Direitos trabalhistas específicos para mulheres incluem proteções durante a gravidez (ex.: não trabalhar em atividades insalubres, mudança de função se necessário), intervalos para amamentação após o retorno ao trabalho, e mecanismos para coibir assédio sexual ou moral no ambiente de trabalho (podendo gerar justa causa do empregador ou agressor, conforme a CLT e o Código Penal). Apesar de garantias legais, a realidade ainda mostra disparidades salariais e obstáculos como dupla jornada (trabalho e cuidados familiares), o que torna esse direito uma busca constante por efetivação.
- Direitos políticos e de participação: As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar e serem votadas em 1932 e hoje têm plena capacidade eleitoral ativa e passiva. Para estimular a representação feminina, a lei eleitoral exige que cada partido ou coligação preencha ao menos 30% de suas candidaturas com mulheres (cotas de gênero desde 1997). Há também fundos de financiamento de campanha e tempo de propaganda reservados às candidaturas femininas, visando reduzir a desigualdade histórica na ocupação de cargos eletivos. Assim, as mulheres têm direito de participar da vida política e ocupar espaços de poder, e o Estado deve remover barreiras formais e informais que ainda limitam esse direito (como violência política de gênero, recentemente tipificada).
- Direito à informação e acesso à Justiça: As mulheres têm direito de conhecer seus direitos e acessar a Justiça de forma efetiva. Isso engloba o direito a atendimento jurídico gratuito pela Defensoria Pública se não puderem arcar com advogado, direito a informação clara sobre os serviços disponíveis (por exemplo, ser informada pela polícia sobre a possibilidade de medidas protetivas, ou pelo hospital sobre seus direitos após sofrer violência sexual). Campanhas educativas, como as realizadas no Mês da Mulher, buscam justamente difundir os direitos femininos. Apesar disso, pesquisas do Senado indicam que apenas 24% das brasileiras afirmam conhecer bem a Lei Maria da Penha, apontando que grande parte da população feminina ainda carece de informação sobre seus direitos e os mecanismos de proteção disponíveis. Garantir o conhecimento e a acessibilidade desses direitos é, portanto, parte do desafio.
De forma resumida, os principais direitos da mulher são viver sem violência ou discriminação, ter igualdade de condições em relação aos homens, dispor do próprio corpo e da fertilidade, acessar educação, saúde e trabalho dignamente, além de participar plenamente da vida econômica, cultural e política.
Esses direitos estão respaldados por inúmeras leis internas e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Ainda que o arcabouço legal seja abrangente, a realidade muitas vezes não acompanha a lei, exigindo constante atuação do poder público e da sociedade para tornar esses direitos verdadeiramente efetivos.
Avanços recentes na aplicação da Lei Maria da Penha
Nesses mais de 17 anos de vigência da Lei Maria da Penha, o Poder Judiciário – em especial o Superior Tribunal de Justiça (STJ) – teve um papel fundamental ao interpretar e consolidar entendimentos que reforçaram a proteção à mulher e fecharam brechas que poderiam enfraquecer a lei.
Destacam-se algumas decisões e súmulas importantes do STJ nos últimos anos:
- Proibição dos “benefícios” dos Juizados Especiais: Em 2015, o STJ editou a Súmula 536 estabelecendo que, em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, não se aplicam a suspensão condicional do processo nem a transação penal previstos na Lei 9.099/95. Ou seja, agressores não podem mais contar com acordos que evitariam a condenação ou com penas alternativas leves como doações ou cestas básicas – garantindo maior seriedade no tratamento desses delitos. A súmula deixou claro que isso vale inclusive para contravenções penais no contexto doméstico, não apenas crimes, alinhando-se ao entendimento do STF de zerar a impunidade nesses casos.
- Ação penal pública incondicionada: Ainda em 2015, o STJ consolidou que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada (Súmula 542). Isso significa que a denúncia independe da vontade da vítima; cabe ao Ministério Público prosseguir mesmo se houver retratação. Tal entendimento, posteriormente confirmado pelo STF, foi crucial pois muitas vítimas, por medo ou dependência emocional/financeira, acabavam retirando as queixas – agora, nos crimes físicos, a lei não permite mais “voltar atrás” fora das hipóteses legais. O STJ também firmou que a retratação nos poucos casos em que ainda é admitida (crimes que exigem representação, como lesões leves antes da mudança jurisprudencial de 2012, ou crimes sexuais antes de 2018) só tem validade se feita em audiência judicial e antes do oferecimento da denúncia. Tentativas de desistir da ação após o processo iniciado, ou de forma extrajudicial, não surtem efeito.
- Vedação do princípio da insignificância: O STJ editou a Súmula 589 afirmando ser inaplicável o princípio da insignificância (ou bagatela) aos crimes de violência doméstica. Com isso, agressores não podem alegar que a lesão ou ameaça foi “sem importância” para escapar de punição. Mesmo um empurrão ou tapa considerado de “pequeno potencial ofensivo” não é juridicamente insignificante nesse contexto, dado o alto grau de reprovabilidade e a relevância penal da conduta. Essa orientação impede a banalização de agressões aparentemente leves, reconhecendo que elas integram um ciclo de violência e submissão da vítima.
- Impossibilidade de pena substitutiva ou cesta básica: Em 2017, o STJ também editou a Súmula 588 estabelecendo que nos casos de violência doméstica com violência ou grave ameaça não é possível substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (como prestação de serviços à comunidade ou pagamento isolado de multa). Tampouco se admite penas pecuniárias isoladas (pagamento de cestas básicas, por exemplo). A Lei Maria da Penha veda expressamente essas substituições (art. 17), e o STJ consolidou essa vedação inclusive quando o tipo penal prevê pena de multa alternativa. Assim, um condenado por agredir a companheira não poderá cumprir pena apenas pagando multa ou fazendo doação, pois isso esvaziaria o caráter pedagógico e punitivo necessário.
- Dano moral à vítima na esfera criminal: Em 2018, numa decisão de recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que é possível o juiz criminal fixar indenização mínima por dano moral à vítima de violência doméstica, ainda que não haja pedido de valor específico. Ou seja, na sentença condenatória o magistrado pode determinar que o agressor pague uma compensação financeira pelos traumas e humilhações causados, mesmo sem ação cível separada. O ministro Rogerio Schietti enfatizou que a dor psicológica da vítima de violência doméstica é evidente uma vez provada a agressão, e não necessita de prova pericial específica – a própria condenação já permite inferir o dano moral. Essa orientação agiliza a reparação e evita que a mulher tenha que entrar com outro processo para buscar indenização.
- Desnecessidade de coabitação (abrangência da lei): O STJ enfrentou casos questionando se, para aplicar a Lei Maria da Penha, agressor e vítima precisavam morar juntos. A resposta foi não: desde que haja relação íntima de afeto ou vínculo familiar, a proteção da lei se aplica, mesmo sem coabitação. Esse entendimento culminou na Súmula 600 do STJ, deixando claro que não é exigido viver sob o mesmo teto – basta que a violência ocorra no contexto de uma relação doméstica, familiar ou em uma relação íntima de afeto (como namorados ou ex-parceiros). Por exemplo, o STJ já decidiu aplicar a LMP a um caso de agressão de um neto contra a avó, pois embora não morassem juntos, havia relação familiar e situação de vulnerabilidade da mulher idosa. Também já reconheceu sua incidência em agressões de filhas contra a mãe, quando presentes laços familiares e dependência, invertendo o estereótipo de que apenas homens agridem – o critério é a mulher estar em posição de vulnerabilidade naquela relação. Inclusive, a lei protege mulheres trans que se identifiquem no gênero feminino em relações domésticas; o STJ já teve decisões favorecendo essa interpretação inclusiva, embora não esteja nas súmulas expressamente.
- Abrangência ampla quanto ao agressor e vítima: Seguindo essa lógica, o STJ afirmou que a violência doméstica combatida pela Maria da Penha pode ser cometida por qualquer pessoa, homem ou mulher, desde que a vítima seja do sexo feminino em contexto doméstico/familiar. Já foram julgados casos, por exemplo, em que a agressora era uma mulher (neta contra avó) e a lei foi aplicada para garantir a proteção especial à idosa. O importante é a situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade da mulher na relação, que justifica a tutela diferenciada, independentemente do gênero do agressor. O STJ deixou consignado que a premissa da Lei Maria da Penha é reequilibrar a desproporção de poder nas relações de intimidade, presumindo a hipossuficiência da mulher agredida – seja ela dona de casa ou figura pública renomada, casada ou apenas ex-namorada. Por exemplo, no caso de uma atriz famosa agredida pelo namorado em local público, o Tribunal decidiu que sua notoriedade não a excluía da proteção da lei; ao contrário, a situação de violência íntima a coloca em posição de vulnerabilidade que a lei busca amparar.
- Competência dos juizados e medidas integradas: O STJ também proferiu decisões importantes sobre aspectos processuais da lei. Firmou, por exemplo, que cabe ao Juizado de Violência Doméstica julgar a execução de alimentos (pensão) fixados como medida protetiva em favor de filhos da vítima, mesmo que em geral questões de alimentos sejam da Vara de Família. Essa decisão evita que a mulher tenha que recorrer a outro juízo para receber pensão alimentícia provisória dos filhos enquanto está sob proteção – manter no juizado especializado acelera o amparo financeiro e evita revitimização. Em outra decisão, o STJ reconheceu o chamado princípio do juízo imediato: a vítima pode pedir a medida protetiva no foro de seu domicílio atual, diferente do foro onde ocorreu a agressão, para facilitar o acesso rápido à Justiça. Isso é crucial quando a mulher sai de casa ou muda de cidade para se proteger; ela pode acionar o juízo mais próximo de si, sem amarras de competência territorial que retardariam a proteção.
Em síntese, a jurisprudência do STJ nos últimos anos tem fortalecido a efetividade da Lei Maria da Penha. O Tribunal da Cidadania tem reiteradamente fechado caminhos de impunidade (impedindo argumentos de menor potencial ofensivo ou soluções negociadas), expandido o alcance da lei a diversas situações familiares e relações de afeto, e garantido que a proteção jurídica acompanhe a realidade vivida pelas mulheres.
Cada súmula e decisão mencionada colaborou para derrubar o antigo padrão de omissão e negligência estatal diante da violência doméstica no país. Isso tem encorajado mais vítimas a confiarem no sistema de Justiça: embora os índices de violência ainda sejam alarmantes (cerca de 1,3 milhão de mulheres agredidas por ano, segundo dados do IBGE), observa-se que cada vez mais mulheres estão “abrindo a porta de suas casas para a entrada da Justiça” em busca de seus direitos.
A combinação de leis mais firmes e jurisprudência progressista é essencial para consolidar a Maria da Penha como uma ferramenta efetiva de combate à violência de gênero.
Desafios na efetividade da Lei Maria da Penha
Apesar dos notáveis avanços legislativos e jurisprudenciais, persistem inúmeros desafios para que a Lei Maria da Penha seja plenamente efetiva na proteção das mulheres.
Entre os principais obstáculos enfrentados pelas vítimas na prática, podemos citar:
- Altos índices de violência e feminicídio: A violência contra a mulher permanece em patamares preocupantes no Brasil, indicando que a lei, embora avançada, ainda não conseguiu deter a escalada de casos. Em 2024, por exemplo, foram registrados 966.785 novos casos criminais relacionados à Lei Maria da Penha no Judiciário brasileiro, e 1.450 feminicídios (assassinatos de mulheres por razão de gênero) computados oficialmente no ano. Isso equivale a uma média chocante de 4 mulheres mortas por dia por violência misógina. Esses números mostram que a violência de gênero é estrutural e disseminada, exigindo muito mais do que a letra da lei para ser reduzida – é preciso mudança cultural e melhoria na prevenção.
- Subnotificação e barreiras para denunciar: Muitos casos ainda não chegam ao conhecimento das autoridades. Seja por medo de represálias do agressor, dependência emocional/financeira, vergonha ou descrença na Justiça, uma parcela significativa das mulheres não formaliza denúncia. Pesquisas indicam que a maioria das vítimas de feminicídio nunca havia obtido medida protetiva ou denunciado antes de serem assassinadas. Em São Paulo, por exemplo, 86% das mulheres vítimas de feminicídio em 2022 não tinham qualquer ordem de proteção vigente – sinal de que não buscaram (ou não conseguiram) ajuda a tempo. Isso reflete tanto questões pessoais (ciclo da violência, manipulação pelo agressor) quanto institucionais (falta de confiança no sistema). Ainda pesa, em pleno 2025, a mentalidade machista que naturaliza certas violências ou culpa a vítima, fazendo com que muitas mulheres “retornem ao silêncio” diante de um atendimento frio ou julgador. Combater esses estigmas e incentivar as denúncias continua sendo um desafio crítico.
- Dificuldade no cumprimento e fiscalização das medidas protetivas: Conseguir a medida protetiva é um passo importante, mas garantir seu cumprimento efetivo é outro desafio. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que, em 2024, apenas 3,6% das medidas protetivas de urgência expedidas contavam com algum tipo de fiscalização eletrônica (como tornozeleira no agressor). Ou seja, na imensa maioria dos casos, a vigilância depende da própria vítima alertar a polícia ou de visitas esporádicas. Com isso, muitas medidas são descumpridas sem consequências imediatas. Ainda segundo o CNJ, 28,3% das mulheres assassinadas tinham uma medida protetiva ativa no momento da morte – o que revela falhas graves: ou a proteção chegou tarde demais, ou não foi capaz de deter o agressor determinado. Faltam meios de monitoramento mais abrangentes, como alarmes, patrulhas frequentes e uso amplo de tornozeleiras eletrônicas para quem tem histórico de desobedecer ordens judiciais. A recente mudança legal de 2024, que aumentou a pena por descumprir medida protetiva, visa coibir essas violações, mas sua eficácia depende da capacidade de flagrar e responsabilizar o infrator a tempo.
- Estrutura insuficiente e resposta lenta em algumas regiões: Embora tenhamos avançado com novas delegacias e varas especializadas, a cobertura ainda é desigual pelo país. Há municípios sem Delegacia da Mulher ou sem juizados especiais, o que sobrecarrega as delegacias comuns e dificulta um atendimento adequado e ágil. Em locais rurais ou do interior, a distância e a falta de capacitação específica dos agentes podem desencorajar denúncias. Mesmo onde a estrutura existe, a morosidade do sistema judicial pode comprometer a proteção: processos que se arrastam, recursos protelatórios e burocracia podem minar a confiança da vítima. Casos de extrema violência divulgados na mídia – como o da jovem agredida com 61 socos em 36 segundos pelo ex-namorado em Salvador, filmado por câmeras – frequentemente revelam que medidas poderiam ter sido tomadas antes. O clamor público nesses episódios reacende o debate sobre a agilidade da Justiça e leva a questionar: por que sinais anteriores não resultaram em ações preventivas mais fortes? A integração total entre polícia, Judiciário e comunidade ainda está em processo de melhoria.
- Revitimização e falhas no acolhimento: Muitas vítimas relatam que, ao buscar ajuda, enfrentam atitudes despreparadas ou preconceituosas de alguns profissionais, o que gera revitimização. Interrogatórios insensíveis, dúvida sobre a palavra da mulher, minimização da denúncia (“será que foi isso tudo?”) e até tentativas de conciliação indevidas ainda ocorrem, embora em tese proibidas. Esses comportamentos refletem estereótipos de gênero enraizados – por exemplo, o estereótipo de que mulheres “aumentam ou inventam” histórias para se vingar ou obter vantagem. O CNJ recentemente aprovou protocolos para julgamento com perspectiva de gênero, justamente para eliminar preconceitos no tratamento dos casos. Melhorar a capacitação de policiais, juízes, promotores e assistentes sociais para um atendimento empático e centrado na vítima é um desafio contínuo. Onde isso foi implementado (como nas Casas da Mulher Brasileira), os resultados em satisfação e efetividade tendem a ser melhores.
- Aumento da demanda e necessidade de recursos: Com a popularização da Lei Maria da Penha, houve também um forte aumento nas denúncias e ações judiciais – um efeito positivo por revelar a demanda reprimida, mas que pressiona o sistema. O número de medidas protetivas solicitadas quase dobrou em quatro anos, passando de 463 mil em 2021 para mais de 851 mil em 2024. Os tribunais e delegacias precisam de mais pessoal, orçamento e infraestrutura para dar conta desse volume sem perda de qualidade. Em muitos lugares, faltam equipes multidisciplinares (psicólogos, assistentes sociais) para acompanhar as vítimas durante e após o processo. A carência de abrigos suficientes também é problemática: muitas cidades não possuem um abrigo seguro para mulheres em risco de morte, forçando algumas a retornarem para locais onde podem ser encontradas pelo agressor. Garantir recursos financeiros e prioridade política para a plena implementação da rede de proteção é um desafio político e administrativo.
- Transformação cultural e prevenção a longo prazo: Por fim, o maior desafio é mudar a cultura da violência e do machismo estrutural. As leis sozinhas têm alcance limitado se a sociedade não repudiar firmemente o desrespeito às mulheres. Ainda vemos altas taxas de tolerância ou desculpabilização da violência em certas comunidades, dependência econômica que prende mulheres a relacionamentos abusivos, e reprodução de papéis desiguais de gênero desde cedo. Medidas educativas (como inserir o tema nas escolas, conforme já determinado em lei) e campanhas permanentes são essenciais para prevenir a violência antes que ela ocorra. É um trabalho de gerações: ensinar respeito, equidade e resolução não violenta de conflitos desde a infância. Enquanto isso não estiver consolidado, a Lei Maria da Penha continuará sendo acionada após a violência já ter ocorrido. O ideal seria que, no futuro, menos mulheres precisassem recorrer a ela, porque os potenciais agressores terão desaprendido comportamentos violentos. Até lá, o desafio é romper o ciclo da violência, empoderando as vítimas para denunciar no primeiro sinal de abuso e garantindo que o Estado responda de modo rápido e eficaz, evitando a escalada.
Em conclusão, a Lei Maria da Penha é internacionalmente reconhecida como uma legislação robusta e inovadora – já foi considerada pela ONU como uma das três melhores leis de enfrentamento à violência contra a mulher no mundo.
Desde sua criação em 2006, muita coisa mudou para melhor: hoje há mais consciência pública, mais casos levados a sério, punições mais duras e uma estrutura de apoio antes inexistente. Avanços legislativos recentes aprimoraram ainda mais a lei, fechando lacunas e incorporando novas formas de violência, enquanto interpretações judiciais progressivas reforçaram que a lei deve ser aplicada com rigor e sem preconceitos.
Entretanto, os desafios remanescentes – seja na implementação prática das medidas, no comportamento da sociedade ou na disponibilidade de recursos – mostram que a luta está longe do fim. Para possíveis clientes de um escritório de advocacia, é importante saber que a proteção legal existe e vem se fortalecendo, mas também estar ciente de que cada caso exige atuação diligente para vencer obstáculos.
O papel do advogado, assim como de toda a rede de apoio, é fundamental para orientar a vítima sobre seus direitos, cobrar o cumprimento das medidas e buscar soluções integradas (jurídicas e sociais) que garantam a efetividade da lei.
Somente com a união de esforços – do sistema de justiça, dos profissionais capacitados e da própria sociedade – será possível transformar os avanços legais em transformação real na vida das mulheres, concretizando o ideal da Lei Maria da Penha de um Brasil sem violência de gênero.
Aqui na Garrastazu Advogados temos uma equipe pronta para promover o acolhimento e o aconselhamento sobre os melhores caminhos a seguir nessas situações. Conte conosco!























Fique por dentro das nossas novidades.
Acompanhe nosso blog e nossas redes sociais.